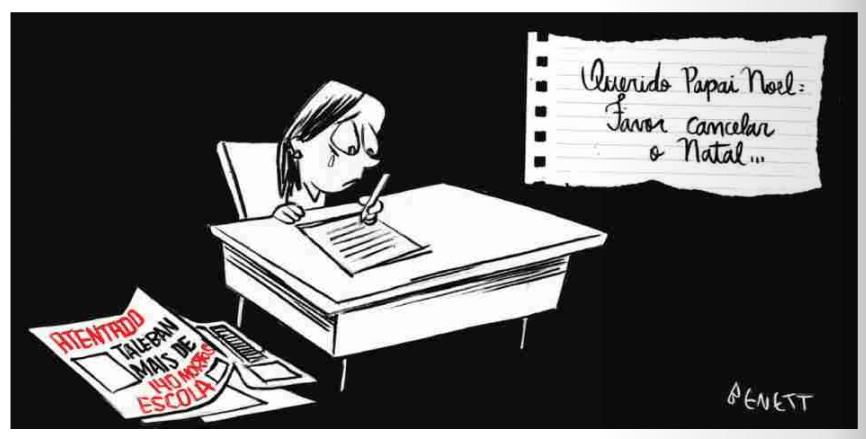Pechincha de verão: pague R$ 250 para estacionar no Réveillon de Copacabana
Mário Magalhães
Não está errado: duzentos e cinquenta reais.
É o que cobra a rede gEpark pelo estacionamento na noite do Réveillon em Copacabana.
No sábado, eu passava diante do hotel na rua Barata Ribeiro, 222 quando li um pequeno cartaz do estacionamento gEpark que ali funciona.
Ofereciam vaga para a virada do ano. E o preço, perguntei? Os tais R$ 250.
Para reservar, informaram que é só ligar para 3445-3100, aqui no Rio.
Liguei, e é mesmo com eles.
Quem se habilita?